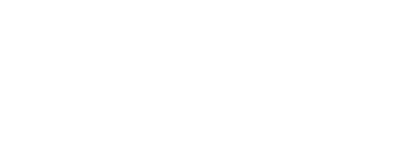Em 2015, após anos de políticas de austeridade implementadas por governos de centro-esquerda e centro-direita, chegou ao poder em Portugal uma nova coalizão de forças políticas. Pela primeira vez, um governo minoritário formado pelo Partido Socialista dependia da maioria parlamentar concedida pelo Partido Comunista Português, pelos Verdes e pelo Bloco de Esquerda, formação de esquerda radical surgido em 1999.
Líder de um dos tradicionais partidos da direita portuguesa, Paulo Portas chamou a nova coalizão de “geringonça”. O nome foi adotado pelo primeiro-ministro, António Costa, que governou ao longo de quatro anos graças à maioria conquistada com o apoio dos partidos de esquerda. A aliança consistia num acordo firmado por escrito entre os partidos visando superar gradativamente as políticas de austeridade implementadas após a crise de 2008.
Estive no Congresso do Bloco de Esquerda em 2012 e lembro dos debates acalorados em torno da possibilidade de um “governo das esquerdas” para enfrentar as políticas impostas pela União Europeia e as desconfianças com o moderado PS e sua capacidade de aceitar acordos programáticos que pudessem superar as políticas neoliberais dos governos anteriores.
Essa desconfiança esteve presente desde o início da geringonça. A maioria parlamentar conquistada pelos social-democratas do PS graças ao apoio de comunistas, socialistas e verdes não suprimiu as diferenças existentes. Pelo contrário. Diferente da coalizão das esquerdas na Espanha, onde Podemos e PSOE compartilham espaços no governo, PCP e BE decidiram não ocupar cargos na gestão de Costa, restringindo-se a dar maioria parlamentar ao PS para evitar um governo do direitista PSD.
O fim da geringonça começa a anunciar-se em 2019, quando o PS recusa a proposta de fortalecimento da legislação trabalhista reivindicada pela esquerda e rejeita um acordo com BE e PCP. A ruptura ocorre definitivamente com a crise do orçamento e a antecipação das eleições para o início de 2022. Cobrando mais investimentos sociais, BE e PCP votaram contra a aprovação da proposta orçamentária enviada pelo governo ao parlamento e deixaram o PS em minoria. O presidente Rebelo de Sousa, do PSD, decidiu então convocar eleições antecipadas apostando na derrota de António Costa.
Isolado, o PS apostou na popularidade do Primeiro-Ministro e na dificuldade dos eleitores tradicionais do PCP e BE de compreenderem as divergências que levaram ao fim da geringonça. Com bons indicadores sociais frente à pandemia da Covid-19, os socialistas podiam sustentar a manutenção do compromisso fiscal imposto pela União Europeia sem serem acusados de abandonarem as políticas sociais. Os demais partidos de esquerda, por sua vez, apostaram alto na capacidade dos eleitores de compreenderem que a manutenção da austeridade fiscal poderia cobrar um preço alto para a continuidade das políticas sociais no médio prazo.
Na reta final, diante de sondagens que mostravam uma eleição apertada para os social-democratas, o PS apostou no voto útil conclamando os eleitores de esquerda à maioria absoluta. O resultado foi uma “desidratação” dos demais partidos, que perderam ao todo 20 deputados. O Bloco de Esquerda foi a força mais atingida, caindo de 19 para apenas 5 cadeiras no parlamento português. A extrema-direita, em sua estreia, conquistou 11 assentos.
Há muitas explicações possíveis para a derrota dos partidos de esquerda com o fim da geringonça. Uma delas, afirma que o “pecado original” destes partidos foi ter concedido a maioria em 2015 ao Partido Socialista, “premiando” aqueles que haviam sido responsáveis pelo trágico acordo com o FMI em 2011, sob o governo de José Sócrates. Segunda essa explicação, ao absolver o PS de suas responsabilidades diante da crise, os partidos de esquerda perderam legitimidade frente à parcela mais crítica dos eleitores.
Outra explicação afirma justamente o contrário: o erro de comunistas e socialistas teria sido justamente ter optado por retomar uma posição de maior autonomia em relação ao PS, num momento de alta popularidade de António Costa e de reconhecimento, por parte da maioria dos eleitores, da boa gestão dos social-democratas frente a pandemia.
Não deve ser descartada, ainda, a hipótese de que o aumento da radicalização política promovida nos últimos anos pelas forças de extrema-direita – como Chega e Iniciativa Liberal – tenha gerado uma maior coesão dos eleitores progressistas junto ao Partido Socialista, desidratando forças menores consideradas incapazes de barrar a ofensiva dos extremistas.
Parece inegável, no entanto, que os partidos de esquerda subestimaram o poder de atração do velho PS num momento de tantas incertezas. Apesar de seus evidentes limites, o partido de Costa foi visto pela maioria dos eleitores como o único capaz de, ao mesmo tempo, conter o avanço da extrema-direita e garantir algum nível de estabilidade econômica. Pode parecer pouco, mas às vezes é o suficiente para a maioria. Que a esquerda socialista no Brasil não cometa o mesmo erro.