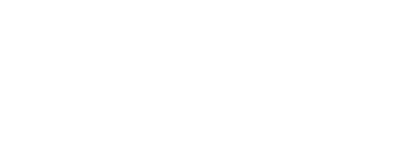Juliano Medeiros, líder do PSOL, fala sobre o sistema político, as falhas do neoliberalismo e a dificuldade da esquerda em bancar suas posições
“Assim, mal dividido, esse mundo anda errado”. A mensagem na camiseta de Juliano Medeiros faz menção a “Deus e o Diabo na Terra do Sol”, um clássico do cinema brasileiro, assinado por Glauber Rocha em 1964. No enredo, o vaqueiro Manuel foge de jagunços do dono da terra e junta-se a beatos, acreditando em promessas tentadoras para quem vive na miséria e foi abandonado pelo governo. Pouco mais de meio século depois, Juliano Medeiros é um jovem adulto que acredita na retomada do papel do estado na transformação do país.
Ele nasceu em Sapucaia, no Rio Grande do Sul, em setembro de 1983. Filho de uma dona de casa e um operário, cedo mudou-se de lá para estudar: Juliano é graduado e mestre em História e tem doutorado em Ciência Política pela UnB, Universidade de Brasília. Em sua tese, estudou movimentos sociais que se articularam – ou não – em partidos políticos no Brasil e no mundo, dando origem ao que pode-se chamar de uma nova esquerda latino-americana.
Sua militância política começa ainda no movimento estudantil, nos anos 90. Filiado, na época, ao Partido dos Trabalhadores (PT), fez parte do grupo com divergências de opinião que saiu em debandada e fundou, em 2004, o Partido Socialismo e Liberdade – o PSOL. Ele, que já ocupava a diretoria de movimentos sociais da UNE (União Nacional dos Estudantes), em 2007 assume uma cadeira no diretório nacional do partido que acabava de estrear nas eleições.
Juliano é simpático e articulado – desenvolveu uma militância ativa, representando a UNE e o PSOL em vários eventos internacionais. Mantém relações com partidos, movimentos e lideranças políticas da esquerda radical em países como Espanha, Portugal, Uruguai, Colômbia e outros. No Brasil, coordenou a campanha para presidência de Guilherme Boulos, em 2018 e também integrou a de Fernando Haddad no segundo turno daquele mesmo ano. Em 2022, diz que a prioridade é impedir a reeleição de Jair Bolsonaro.
De passagem por Teresina, em um giro pelas capitais do país com a finalidade de alinhar estratégias do PSOL para os próximos anos, Juliano recebeu a equipe do oestadodopiaui.com para um papo sobre a nova esquerda, a indignação popular e as eleições de outubro.
Com a confirmação do nome de Geraldo Alckmin para vice-presidente de Lula e, caso essa chapa vença a eleição, será possível botar em prática, do ponto de vista da governabilidade, políticas que são importantes sem coalizão de partidos cujas prioridades são distintas?
Eu acho que o Alckmin não agrega absolutamente nada do ponto de vista político ou eleitoral. Eleitoral porque ele não traz consigo nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum senador, nenhum deputado e, para além disso, ele se filiou a um partido que já apoiava o Lula. Então, em termos de agregação pra responder a essa suposta necessidade de governabilidade eu acho que o Alckmin não agrega nada. Mas, se por um lado ele não agrega nada do ponto de vista eleitoral, por outro lado também ele agrega pouco do ponto de vista político – o que significa que, como uma voz fragilizada num debate público nos últimos anos – vamos lembrar, o Alckmin estava participando de um programa nas tardes da Redetv, falando sobre acupuntura! – os seus defeitos tendem a impactar pouco o que pode vir a ser um futuro governo Lula. Esse era o Geraldo Alckmin dos últimos anos: um sujeito que acabou a campanha presidencial em 5º lugar, mesmo sendo o candidato de todos os grandes partidos da direita brasileira. Não acho que as relações que o PT e o Lula podem vir a manter com setores da elite empresarial brasileira passem pelo Alckmin. Não acho que ele vai ser o ator que pode vir a determinar o caráter desse governo.
Como você avalia, nesse momento, que está a indignação popular com o governo Bolsonaro?
A insatisfação com o sistema político continua latente. A maior prova disso é que a suposta terceira via, esse consórcio de partidos conservadores tradicionais da direita brasileira, não consegue viabilizar um nome com alguma competitividade – isso tem a ver exatamente com a crise do centro político. Também tenho visto declarações do ex-presidente Lula, manifestações dele abordando temas que ele não aborda há muito tempo, como a legalização do aborto, a necessidade de uma governabilidade que passe por uma pressão popular sobre membros da Câmara dos deputados, membros do Senado federal, reiterando a necessidade de mudar a política econômica, de revogar medidas que foram tomadas nos últimos anos, como parte dessa agenda do golpe de 2016. Minha avaliação é que nós continuamos vivendo um contexto de polaridade política, não de polarização – que é essa percepção meio vulgar que as pessoas têm do fato de ter dois polos fortalecidos na disputa eleitoral. A dinâmica da luta política no Brasil não é hegemonizada por posições mais ao centro, centro-esquerda, centro-direita, como foram desde 94 até 2014, na polarização PT-PSDB. A entrada em cena de um ator de extrema-direita, que é o Jair Bolsonaro, moveu esses polos para posições mais extremadas. A direita passou a ser hegemonizada pelo bolsonarismo, ou seja, o neoliberalismo clássico perdeu força, perdeu sua hegemonia. E no campo da esquerda, o PT também perdeu forças, teve que fazer negociações para dialogar com uma base social mais crítica. Eu acho que vai ser uma eleição onde, mais uma vez, quem vestir o figurino de centrista, tá fadado a derrota.
Você acha que conseguiríamos, nesse momento, uma política que mexa nas estruturas do capitalismo?
Nós vivemos hoje o melhor momento para questionar as bases do projeto neoliberal. Porque o mundo inteiro, diante da tragédia que foi a pandemia do coronavírus, demandou por mais estado, por mais políticas sociais, por mecanismos de proteção às pessoas em condição de vulnerabilidade social. Portanto, nunca ficou tão evidente a falência, o fracasso das promessas do neoliberalismo que diziam que o mercado seria capaz de suprir as necessidades das sociedades em geral. Acho que a pandemia deixou isso muito claro e, não por outra razão, voltou a ter muita força o debate público sobre programas de renda mínima universal, sobre o papel do estado no financiamento das políticas públicas e da economia como um todo – nós temos agora nos Estados Unidos o plano Biden 3.2 trilhões de dólares em projetos de infraestrutura para geração de emprego. O debate sobre o papel do estado voltou com muita força, o que me faz acreditar que há um enorme questionamento ao neoliberalismo. Isso permite que as forças da nova esquerda possam ocupar mais espaço.
Quais são as principais características dessa nova esquerda que você define, especialmente no Brasil?
O que eu chamo de nova esquerda é uma geração de movimentos sociais, alguns deles que se institucionalizaram como partidos políticos, outros não, que buscam renovar a agenda da esquerda anticapitalista no século XXI – ou seja, que reconhece que não há uma contradição entre as demandas materiais (emprego, saúde, educação, habitação, transporte público de qualidade) e aquelas demandas chamadas, nos anos 70, de pós-materiais (igualdade, reconhecimento, fim das opressões de gênero, classe, raça ou orientação sexual). A ideia é juntar o que o nosso próprio nome do PSOL aponta: socialismo e liberdade. Unir numa mesma plataforma política a luta pelo meio ambiente, pelos direitos humanos, pelo direito das mulheres, LGBTQIA+, negros e negras, com a plataforma histórica dos partidos socialistas por melhores condições de vida. A nova esquerda vem nessa perspectiva e ela é muito anti-neoliberal, na medida em que o neoliberalismo propõe apartar essas duas dimensões. O neoliberalismo promete que as mulheres podem viver nas mesma condições de igualdade que os homens, que é possível integrar os negros ao mercado de trabalho, que é possível ter uma sociedade harmoniosa no campo dos direitos civis mas, na economia, “deixa que o mercado resolve”. É possível trabalhar uma perspectiva renovada a partir dessa crítica ao neoliberalismo.
Então, a gente pode dizer que a nova esquerda é mais anti-neoliberal do que propriamente anticapitalista, seria isso?
Digamos que, na forma, sim: é bem mais anti-neoliberal. Mas, no conteúdo, algumas das suas expressões são bastante anticapitalistas. Especialmente no que diz respeito aos movimentos sociais. No geral, a expressão das suas demandas imediatas são bem mais direcionadas a crítica ao neoliberalismo, mas vários desses movimentos da nova esquerda tem um DNA bem anticapitalista. O principal exemplo que posso citar é o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, fundado em 1997), do Brasil, que é um movimento do final dos anos 90, mas que ganha protagonismo, relevância política, a partir de junho de 2013 – tem como centro a crítica a ausência do estado na garantia das políticas habitacionais mas, no fundo, é um movimento socialista. As declarações, o programa, a orientação política do MTST é de um movimento socialista, ou seja: de um movimento anticapitalista. Se você olhar, os coletivos estudantis que deram origem a frente ampla do Chile, que agora chegou a vitória e governa o país, na origem tem organizações socialistas, organizações que vieram do que eles chamam lá de autonomismo, que é uma corrente política de esquerda e bem anticapitalista. Então eu acho que na raiz, sim, tem muito anticapitalismo, embora a expressão desses movimentos hoje esteja muito mais centrada na crítica ao neoliberalismo.
Uma das principais críticas feita em relação ao PSOL diz respeito ao fato de ser um partido de oposição sem, de fato, ter uma experiência prática em um governo. Como isso pode, de algum modo, interferir na política de vocês?
As experiências de governo que nós temos, realmente, são poucas, porque o PSOL optou por não governar de qualquer jeito. Optamos por não governar do mesmo jeito. A dinâmica política-eleitoral do Brasil, hoje, permite poucos espaços para governar da forma que a gente quer governar. Mas eu acho que Belém do Pará, que é nossa principal experiência hoje, é bastante emblemática. Não tem nenhum partido de direita ou de centro-direita, ou da base do Bolsonaro, ou do centrão, no governo do PSOL – só tem partidos de esquerda. Isso não impede que a gente governe, não impede que a gente dialogue com a Câmara, não impede que a gente toque as nossas políticas. Nossos problemas tem a ver com outras questões que são de natureza estrutural, subfinanciamento das prefeituras, a crise econômica… mas não são problemas políticos. Eu acho que quem faz essa crítica está parcialmente correto, na medida em que o PSOL teve poucas experiências em termos de governos até agora, mas a parte incorreta está no que diz respeito à ideia de que só tem um jeito de governar. Isso é falso, isso aprisiona nossa criatividade e nos torna reféns desse conceito da governabilidade que é um conceito conservador, que foi criado pela teoria conservadora da democracia. Nós não podemos ser reféns da ideia de que só tem um jeito de governar porque, se for isso, nós não temos nenhuma razão de existir.
Os movimentos identitários vem impactando o PSOL nos últimos anos? Isso os aproxima ou afasta mais da sua luta inicial mais vinculada ao PT, no início dos anos 90?
O PSOL aborda essas lutas não em sua dimensão identitária. Óbvio que a afirmação das identidades é parte da luta pelo reconhecimento de setores sub representados na política e na sociedade. Mas, para nós, não são lutas identitárias. São lutas estruturantes, porque o capitalismo brasileiro é estruturalmente racista, estruturalmente patriarcal, estruturalmente homofóbico, ou seja: ele é fundado sobre uma dinâmica que exclui esses setores sociais, que os violenta, que os oprime permanentemente. Então o PSOL entra numa disputa política com os setores liberais a mais ou menos uma década atrás conscientemente reconhecendo que era preciso ter uma outra perspectiva para a abordagem dessas questões – se não nós perderíamos a disputa, em relação à perspectiva liberal do feminismo, a perspectiva liberal da questão racial, aquilo que a Nancy Fraser (filósofa da Teoria Crítica) chama de “neoliberalismo progressista” – que acena com a inclusão desses setores sociais mas que, na prática, não apresenta nenhuma possibilidade de emancipação real. Portanto a gente percebe que havia uma disputa a ser travada nesse campo e ela, de maneira nenhuma, nos afasta da luta por emprego, por democracia, por soberania nacional. Ela é complementar, do nosso ponto de vista. Agora, muito mais do que uma opção consciente do PSOL, esse é um processo que nos atravessou, na medida em que várias lideranças negras, LGBTQIA+, feministas, também nos escolheram como abrigo. Viram no PSOL uma maior permeabilidade para essas agendas, viram um partido menos fechado, capaz de agregar. E claro que, quem veio do PSOL, do movimento feminista, do movimento antirracista, do movimento LGBTQIA+ são pessoas de esquerda então, portanto, elas nos ajudaram a transformar o PSOL e o PSOL ajudou a transformar essas lutas também, aportando a elas uma perspectiva marxista, uma perspectiva anticapitalista. Para nós não são lutas que podem ser separadas em duas dimensões. São complementares.
Qual a chave para se comunicar com o jovem hoje sobre esses debates? Como mostrar para ele o problema do neoliberalismo, do capitalismo se, por todo o resto da sociedade, a abordagem que ele tem é de que isso é a solução para a vida dele? Especialmente porque hoje o padrão de sucesso é medido por consumo e convencionou-se que o capitalismo é o que pode dar isso para as pessoas?
Da comunicação eu não sei, mas eu diria que o conteúdo é dialogar com a desconfiança. Há uma desconfiança grande das gerações mais jovens e ela tem a ver com o não cumprimento das ideias do neoliberalismo. Se você pegar uma pesquisa que o Data Folha fez no ano passado, em todos os grandes temas que polarizavam o debate político no Brasil, a imensa maioria dos jovens estava com posições mais à esquerda. Era muito maior a reprovação do governo Bolsonaro entre os jovens do que entre aqueles que tinham mais de 24 anos. Eu acho que tanto a juventude quanto as mulheres hoje são os setores mais desconfiados com o Bolsonaro, com o sistema político como um todo. Porque o sistema político não entrega nada para essa turma há muito tempo. O que o sistema político entregou para as mulheres, em termos de diminuição da desigualdade, segurança econômica e combate a violência? Nada. Teve nos governos do PT alguma coisa mais impactante, democratização do acesso à universidade, mas isso tudo já acabou e acabou com muita facilidade. Então, alguém que dependia de uma política pública importante como, por exemplo, o Prouni, ou o Projovem, no momento em que a Dilma sai do governo e o Temer em uma canetada acaba com esses programas, passa a ver o estado como um inimigo: se é tão fácil assim de acabar é porque aquilo não era um direito, era só um programa de governo. Eu acho que nós temos que dialogar com essa desconfiança que hoje marca o jovem brasileiro, que já não acredita mais nos partidos e na política institucional. Se a esquerda for uma esquerda comportadinha, uma esquerda que pareça parte do sistema, ela vai ser vista como parte do problema – porque o problema é o sistema. Nós precisamos de uma esquerda insurgente. De uma esquerda que não tenha medo de dizer o seu nome, como diz o Vladimir Safatle. Disposta a bancar as posições. Eu acho excelente o que o Lula fala sobre a legalização do aborto. Eu não tenho medo nenhum de que ele perca voto com isso. Ele vai perder voto se ele botar de novo o figurino de 2002: camisa engomada, terno e gravata bem cortados. Porque isso é a imagem do sistema político que faliu no Brasil e no mundo. Na Espanha, em Portugal, e onde a centro-esquerda se reposicionou mais próxima da esquerda radical, ela se renovou, ela sobreviveu. Acho que isso deve nos ensinar alguma coisa.
Aqui no Piauí nós temos grupos políticos extremamente tradicionais – alguns que, embora tenham nascido na esquerda, foram caminhando para o centro – e temos sempre resultados muito previsíveis para o legislativo. Mesmo quando há renovação: é o filho, a esposa ou sobrinho de alguém. E essa mensagem do inconformismo, da desconfiança, não consegue se transformar em resultado eleitoral. O PSOL aqui, por exemplo, é conhecido por não ter um compromisso com a eleição. Quando você não tem um compromisso com resultado e não vence eleição, você não transforma. Como transformar isso efetivamente em resultado?
Para mim a resposta é simples: eu estou entre aqueles que confiam muito nas ideias da esquerda. Realmente acho que o nosso povo tem capacidade de compreender a nossa narrativa. Não estou entre aqueles – e há muitos assim na esquerda brasileira, lamentavelmente – que acreditam que o povo é incapaz de entender nossas ideias. Que acha que o povo é ontologicamente conservador. Não acho isso. Acho que ideias de justiças sociais, ideias de igualdade de oportunidades, ideias de um estado presente e atuante na vida das pessoas para garantir os direitos fundamentais, ideias de que é indecente haver 40 novos bilionários na pandemia enquanto 27 milhões voltaram a viver abaixo da linha da pobreza – eu acredito que essas ideias podem tocar as pessoas, de fato. Acho que se a gente tivesse mais gente na esquerda com convicções, não teríamos um partido que não consegue ter bons resultados eleitorais e outros partidos com pouquíssimas convicções que conseguem ter bons resultados. Muitas vezes a esquerda, por medo de bancar suas posições, de bancar suas ideias, fica com medo de nadar contra a corrente. E acaba se jogando no mar e nadando junto, e repetindo as mesmas coisas. Se é pra isso, a gente não tem razão de existir.
Se por um lado eu concordo que temos que ter compromisso com a vitória e transformação do povo, por outro lado, nós não podemos culpar quem mantém princípios. Não podemos culpar quem mantém posições. O problema não é dessas pessoas: o problema é do sistema político, que se tornou um sistema onde ninguém tem compromisso com suas posições. Ninguém tem convicções. Então, portanto, quem está errado exatamente? Acho que boa parte do problema da esquerda brasileira está vinculada ao modelo eleitoral, a forma como se faz política no Brasil. Isso não determina, mas condiciona a atuação da esquerda no Brasil. É um jeito de fazer política que também tem a ver com o jeito de ganhar eleições e tem a ver com o jeito como se governa. Então, esse pacote sistema político, sistema eleitoral e sistema partidário gera uma série de distorções que vai empurrando uma esquerda frágil ideologicamente para movimentações de conveniências.
Por duas vezes você disse “se for assim, nós não temos razão de existir”. Qual a razão de existir?
A razão de existir do PSOL é transformar esse país. Não é governar, só. Porque o país não vai ser transformado só por um governo. Gosto muito de uma coisa que o Guilherme Boulos fala sempre: “não estamos na luta por uma eleição, estamos na luta por uma geração”. Nós somos a geração que já sabe os limites de governar, somos uma geração que veio do PT, que já reconhece o que dá pra fazer dentro desse jogo – e não é suficiente. Não é suficiente (repete enfatizando). Nós precisamos de mais. Porque quando se perde uma eleição ou quando se é vítima de um golpe, tudo aquilo que se fez se perde assim, como se fosse fumaça. Os 40 milhões que foram tirados da linha da pobreza nos governos do PT – e isso foi um grande feito – voltaram todos. Porque não era uma mudança estrutural, era uma mudança conjuntural, que dependia de uma condição econômica internacional favorável, de acertos com as elites nacionais. Não dá. Não é suficiente. Por isso que o nosso desafio é tão grande. Nossa razão de existir não é ter um governo do PSOL – isso talvez a gente consiga, mais cedo do que tarde. Nossa razão de existir é mudar o país.