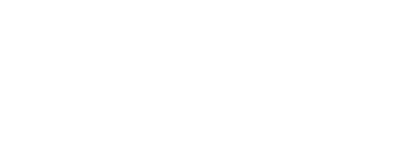Os parâmetros da relação entre governo e legislativo no Brasil mudaram. O anúncio já havia sido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em entrevista recente, quando afirmou que o governo “precisa entender que o Congresso Nacional conquistou maior protagonismo nos últimos anos”.
Lira se referia, obviamente, ao controle exercido pelo Congresso Nacional sobre o orçamento nos anos de governo Bolsonaro, seja através de sua versão “secreta” com as emendas RP-9, seja através do controle de setores estratégicos do Estado brasileiro.
Mas para além das declarações – ou ameaças – o Congresso Nacional, dominado por forças conservadoras, resolveu passar das palavras à ação. Na última semana foram vários os episódios que mostraram que o Congresso Nacional, e em especial a Câmara dos Deputados, está disposto a colocar suas cartas na mesa.
Além da aprovação das novas regras fiscais, com apoio de quase toda a base governista (as exceções foram PSOL e Rede Sustentabilidade), a Câmara dos Deputados votou a urgência do PL 490, que cria o famigerado Marco Temporal e “congela” a demarcação de terras indígenas, alterou atribuições ministeriais na votação da MP 1154, esvaziando os ministérios do Meio Ambiente e Povos Indígenas, e flexibilizou regras para o desmatamento da Mata Atlântica. A ofensiva conservadora sobre as leis ambientais gerou uma reação instantânea nas redes sociais com a hashtag #LiraInimigoDoBrasil. O presidente Lula minimizou o episódio, adiando o confronto com as forças reacionárias que dominam o Legislativo.
Essa situação, no entanto, antecipou os debates latentes em torno da contradição entre a existência um governo eleito com um programa – e um discurso – de esquerda e um parlamento conservador. Diante desse cenário, há apenas três opções para o governo e as forças progressistas em geral.
A primeira é, reconhecendo que as posições que estão na base do governo Lula são minoritárias no Congresso Nacional, fazer apenas o possível. Em outras palavras, aceitar que Lira dará as cartas e imporá de facto uma espécie de “semi-presidencialismo” como sempre defendeu. A vantagem dessa tática é afastar definitivamente os riscos de crise entre os Poderes; a desvantagem está no fato de que o programa eleito seria ferido de morte, alimentando frustrações e, no pior cenário, pavimentando a volta do bolsonarismo nas próximas eleições.
A segunda alternativa seria bater de frente com o Congresso Nacional. Com a atual correlação de forças, isso poderia abrir uma crise institucional de desfecho imprevisível. O impeachment de Dilma ainda é uma ferida aberta na democracia brasileira e ninguém em perfeito juízo optaria por esse caminho. Exemplos de países vizinhos como Peru e Equador também servem de alerta. Parece ser uma opção praticamente inviável.
A terceira alternativa é, seguindo o exemplo de Gustavo Petro, estimular um processo de pressão social em favor do programa eleito nas urnas. Temas centrais desse programa não têm apoio do Congresso, como a reforma tributária progressiva, a valorização do salário mínimo, a reconstrução das políticas ambientais, a retomada do investimento produtivo e uma integração soberana na nova ordem econômica em construção.
O problema é que temos uma sociedade “cansada” depois de uma década de crise política. Por outro lado, sem lutar para reequilibrar a correlação de forças social (já que a correlação de forças política está dada pelo resultado das eleições), não teremos outro caminho senão nos conformarmos com a interdição da agenda de mudanças pelo Centrão.
Lula é um líder político como poucos. Aliás, muito mais forte que seus homônimos sul-americanos. Há partidos e movimentos sociais dispostos a ir às últimas consequências para defender o governo. A batalha que o presidente travou contra o Banco Central em torno da taxa de juros mostra que ele ainda tem uma importante capacidade de convocatória. Talvez usá-la para defender o programa eleito nas urnas seja a única opção para evitar o perigo da frustração.